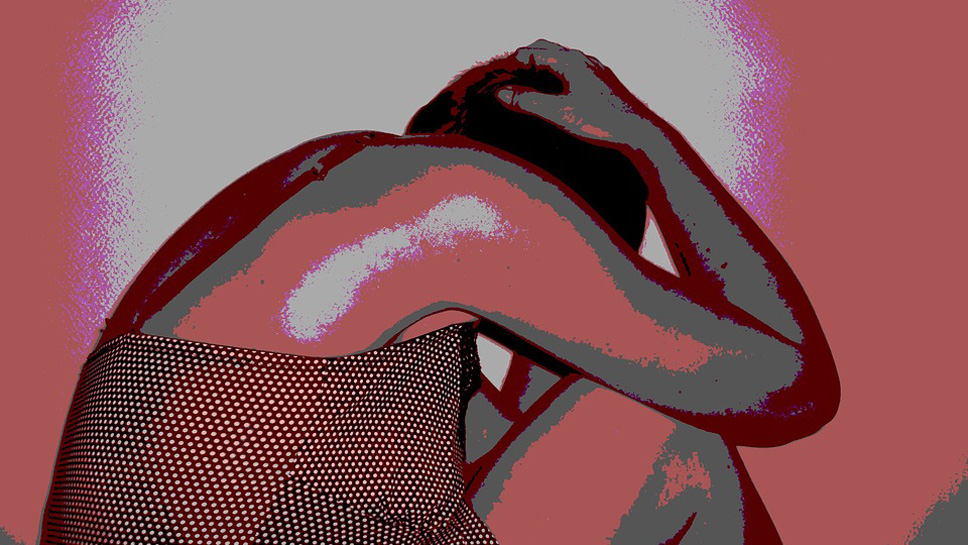
Treze mulheres são assassinadas por dia no Brasil, a maioria delas por familiares. O número, quase comparável a baixas de guerra, refere-se a 2013, último ano pesquisado no Mapa da Violência. À luz de 2017, a média mantém-se perversa, confirmam outros indicadores de uma das violências mais recorrentes, senão a mais recorrente, no país. Especialistas reconhecem avanços como a Lei Maria da Penha (11.340/2006), cujo ponto central – o aumento no rigor das punições relativas a crimes domésticos – contribuiu para reduzir em 10% a taxa de homicídios contra mulheres cometidos nas residências das vítimas. Ainda assim, a escalada da violência de gênero assombra a população brasileira. Para pesquisadores e profissionais dedicados a estudá-la e combatê-la, uma das principais armas é a maior inclinação à denúncia, derivada, segundo, esses especialistas, das campanhas de conscientização, da maior abertura do poder público e de iniciativas assistenciais arciculadas com ONGs, coletivos e instituições de ensino, como a PUC-Rio. Outra arma não menos decisiva é o investimento numa educação que construa valores igualitários e, com base numa melhor integração entre escola e casa, consiga "desnaturalizar a violência". A receita é endossada, por exemplo, pela assistente social Sheila Fonseca, que diarianente assiste vítimas assim na Casa da Mulher Carioca Tia Doca, em Madureira, no subúrbio do Rio: "Se a criança observa o pai agredindo a mãe e acha isso natural, tende a reproduzir o comportamento violento e a encontrar dificuldade para construir o conceito de amor".
O diagnóstico, em tom de alerta, baseia-se nos relatos e nas observações relativos às dezenas de atendimentos diários prestados no centro de assistência. Ancorada, segundo especialistas, em discriminações históricas e heranças patriarcais convertidas numa relação de poder desequilibrada entre gêneros, a naturalização da violência contra a mulher irriga os dos 4.762 homicídios de mulheres registrados só em 2013. A metade foi cometida por parentes, predominantemente parceiros ou ex-parceiros das vítimas, constata o Mapa da Violência.
A cada sete crimes do tipo (feminicídio), quatro partiram de agressores que haviam tido ou mantinham relações afetivas com a assassinada. Os números seriam ainda mais drásticos não fossem as campanhas pelas quais as vítimas (efetivas ou potenciais) conseguem perceber o risco, em geral embutido num relacionamento abusivo; garantias legais às quais têm direito e com as quais podem se proteger e denunciar os agressores; e os serviços que podem assisti-la numa batalha crônica, traço da não menos crônica desigualdade socioeconômica brasileira.
Informação torna-se, ainda de acordo com pesquisadores, uma arma cada vez mais poderosa para dirimir a violência contra a mulher. O acesso a esclarecimenmtos sobre mecanismos legais e assistenciais alusivos à causa reflete-se no aumento de denúncias. Segundo pesquisa do Data Popular e Instituto Patrícia Galvão, 86% dos entrevistados consideram que as mulheres passaram a denunciar mais os casos de violência doméstica com a promulgação da Lei Maria da Penha, há aproximadamente 10 anos, e as campanhas conscientizadoras. A assistente social Sheila Fonseca, que diarianente ajuda vítimas assim na Casa da Mulher Carioca Tia Doca, em Madureira, no subúrbio do Rio, ressalta:
– As campanhas de conscientização resultaram no enorme aumento da procura de ajuda pelas mulheres, tanto que os casos estão na mídia. As pessoas pensam que a quantidade de casos aumentou, mas o que aumentou foram as denúncias. Antes o homem matava uma mulher, e isso era considerada uma questão familiar, o crime não era tipificado, e ele pagava apenas cestas básicas como punição. A própria delegacia, mesmo tendo muitas dificuldades, avançou com a qualidade de atendimento à mulher. O acesso da mulher a esses espaços foi democratizado.
A professora do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio Ariane Paiva, doutora em Política Social, reconhece que "o país avançou na garantia de direitos", mas ressalva: "há muito a fazer". Para a especialista, os movimentos sociais têm impulsionado "o longo caminho até a igualdade e o respeito aos direitos humanos". Ela lamenta, contudo, cortes nos recursos para políticas sociais:
– O tema da violência de gênero tem permanecido, em maior ou menor grau, nas agendas públicas de municípios, estados e da esfera federal. A mobilização dos movimentos sociais vem exercendo um papel destacado. Mas o caminho para a igualdade e o respeito aos direitos humanos ainda é longo, e nesse caminho temos nos deparado com muitos empecilhos e até retrocessos, como os cortes de recursos para as políticas sociais, por exemplo.
Ariane também salienta que serviços como o Disque 180, as DEAMs (Delegacias de Atendimento à Mulher) e os Centros de Referência de Atendimento às Mulheres são iguamente essenciais ao aumento das denúncias:
– Há mais informações e campanhas. A mídia (tradicional) e as redes sociaiks têm tido um papel importante para divulgar a violência doméstica contra as mulheres e incentivar a denúncia.
A professora observa que a maior liberdade das mulheres balança "o status quo e obriga a sociedade a rever os lugares tradicionalmente destinados a homens e mulheres". Tais mudanças podem, aimnda de acordo com a especialista, provocar reações conservadoras não raramente acompanhadas de violência.
Ariane também destaca a Lei Maria da Penha como uma conquista dos movimentos feministas e de várias organizações para resguardar “o direito à não violência". Ela lembra, entretanto, que "ótimas leis muitas vezes não se efetivam plenamente na implementação das políticas públicas". Na avaliação da professora, para que os avanços contemplados em mecanismos como a Lei Maria da Penha sejam consumados, é preciso qualifiicar a assistência policial e ampliar a rede de serviços voltados a combater a violência de gênero:
– Um bom começo seria implantar mais serviços pelos municípios, como delegacias especializadas e centros de atendimento, com a preocupação de ter equipes capacitadas e com recursos adequados e suficientes para o trabalho – sugere – O fortalecimento dos conselhos de direitos e dos movimentos também é fundamental para a mobilização das mulheres e para ampliar a participação e o controle social nos espaços públicos. Mas precisamos ir além. Não mudaremos essa realidade se não mudarmos nossos valores ético-morais e as desigualdades sociais.
Um dos propulsores para "mudar esta realidade" remonta a meados dos anos 1990: a Convenção de Belém do Pará, como ficou conhecida a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra Mulher. Considerada um marco nesta luta, cobrava dos estados um pacto efetivo para erradicar a violência de gênero a partir da uma legislação específica. Preparou o terreno para a Lei Maria da Penha, em 2006, e a Lei 13.104, sancionada em 2015, pela qual o assassinato de mulheres em razão do gênero (feminicídio) passa ser homicídio qualificado.
Essas leis mostram-se essenciais para tirar da invisibiliadde a violação dos direitos humanos das mulheres, concordam os analistas. Mas tornar os abusos e crimes do tipo mais transparentes e passíveis de penas mais duras correspondem, ressaltam eles, apenas ao primeiro passo de um longo processo de transformação. Um processo que abrange desde o amadurecimento do atendimento às vítimas até o remodelamento de padrões socioculturais.
A violência contra a mulher tem raízes fortes culturais e históricas, observam os pesquisadores, e requer ser tratada de forma individualizada. Os valores patriarcais, ainda renitentes na sociedade ocidental séculos XXI, historicamente submete, a mulher ao poder masculino. Esta hierarquização, um vilipêndio ao princípio da igualdade, torna-se um berço da violência, sitematicamente originada nas relações de poder desiguais entre gêneros. Para Sheila Fonseca, a violência espelha uma relação de poder:
– Ainda existe aquele pensamento: "a mulher é minha, e eu faço o que quero com ela: beijo, estupro, bato, mato". Estudos comprovam que casos de feminicídios passam por relação de poder. A maioria deles está associada àquela premissa de possessão dos homens sobre as mulheres.
Maria R.S.B, de 39 anos, foi mais uma vítima do comportamento possessivo que desemboca no assasinato de milhares de brasileiras por ano. Ela foi esfaqueada pelo ex-companheiro, que a viu acompanhada de um amigo. No julgamento, o réu confessou tê-la atacado “por ciúmes”. Estavam separados havia dois meses. Ele pegou 18 anos de reclusão.
Uma parcela nada desprezível desses casos, vários ainda invisíveis, não chega a terminar em homicídio. Nem por isso são menos graves, ressaltam especialistas. A violência contra a mulher manifesta-se de diversas formas e com diferentes níveis de gravidade. Violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral são algumas delas. Nenhuma se desenvolve isoladamente. Fazem parte, em geral, de uma sequência crescente de episódios na qual o homicídio é a manifestação extrema, alertam pesquisadores como a professora da PUC-Rio Ariane Paiva.

Tanto quanto as agressões físicas, as morais, patromoniais e psicológicas estão integradas ao cotidiano de milhares de brasileiras. Revelam-se, porém, mais difíceis de serem flagradas. Sheila é categórica:
– As mulheres chegam aqui (à Casa da Mulher Carioca Tia Doca) de diversas formas: umas chegam muito machucadas fisicamente, outras não muito, mas machucadas por dentro. Esse tipo de violência é o mais difícil de identificar e tratar, pois adoece a mulher internamente, e ela se fecha, acha que não consegue sair daquela situação.
Dos quase 5 mil homicídios de mulheres registrados só em 2013, a metade foi cometida por familiares. Na maioria destes casos, o ataque parte do parceiro ou ex-parceiro, constata o Mapa da Violência/2015. A pesquisa indica, portanto, que a violência doméstica e familiar se constitui a forma mais letal praticada contra as mulheres no Brasil. Na metade dos registros, o tempo de união entre a vítima e o agressor supera cinco anos.
O panorama coincide com a pesquisa DataSenado sobre violência doméstica e familiar feita no ano passado, segundo a qual uma em cada cinco mulheres foi espancada pelo marido, companheiro, namorado ou ex parceiro. A produtora rural Edna Fagundes da Silva reforçou a lista neste ano. Aos 38 anos, foi assassinada pelo marido, Paulo Sérgio Pereira, com quem morava havia pouco mais de oito meses, no município de Xinguara, sul do Pará. A família relata que Edna tentava se separar, pois não tolerava o "ciúme excessivo" de Paulo. Ainda de acordo com familiares da vítima, o crime teria decorrido da intransigência do marido em aceitar a separação. Ele está foragido.
Para que crimes assim sejam erradicados, especialistas enfatizam também a importância do investimento em educação, de maneira a promover a igualdade de gênero desde a pré-escola e de proporcionar o protagonismo das mulheres por meio de políticas públicas na área. Igualmente importantes, acrescentam os pesquisadores, seriam iniciativas voltadas a favorecer a autonomia financeira das mulheres, a equidade no mercado de trabalho e a ampliação de uma rede de serviços integrada no combate contra a violência de gênero.
Ariane Paiva acredita que, para derrotar esse tipo de violência, é necessário “implantar nos municípios serviços como delegacias especializadas e centros de atendimento, com equipes capacitadas e recursos adequados". Ela completa:
– O fortalecimento dos conselhos de direitos e dos movimentos sociais é também essencial à mobilização das mulheres, à maior participação e ao controle social nos espaços públicos. Mas precisamos mudar nossos valores ético-morais e as desigualdades sociais – reitera a professora da PUC-Rio.
Sheila reforça que é preciso "investir muito na educação". Ela propõe que se aprofunde, na escola, as reflexões sobre a violência e questões de gênero:
– Essa situação só vai começar a regredir se realmente a gente pensar na educação que damos aos nossos filhos em casa e na escola. Porque dizer que menino não brinca de boneca, não lava a louça nem varre a casa é como começa a segregação entre lugar social de homens e mulheres. Temos que quebrar com certos estereótipos e paradigmas. Acho que isso se resolve com a educação formal e informal. É extremamente importante promover conversas sobre violência, gênero e machismo, pois às vezes vemos situações que passam despercebidas, coisas do dia a dia que as pessoas acabam naturalizando.
Sheila conta:
– Quando trabalhei na Casa Abrigo, onde são acolhidas mulheres com risco de vida, via crianças reproduzindo o comportamento agressivo do pai. Uma vez um menino de 4 anos veio ao atendimento com a mãe e gritou para ela: “Cale esta boca, mulher”. Era o que ele via em casa, o jeito com o qual o pai falava com a mãe dele. Os pais são a primeira referência de seres humanos que a criança tem. São o primeiro exemplo de relação de amor e afeto. Como a criança constroi o conceito de amor se observa o pai gritando e batendo na mãe, e não vê problema nisso?Desconstruir isso é um processo. O ideal era desconstruir isso dentro da família, mas não podemos entrar nas casas. Fazemos isso ao criar disciplinas dentro da escola, atividades, desde cedo, que desconstruam a naturalização da violência.
A violência contra mulher é, de certa forma, democrática. Embora as agressões gerais continuem se concentrando nos grupos tradicionalmente mais afetados (negro, pobre, mulher), como atesta o Mapa da Violência/2015, a violência de gênero incide sobre variados padrões sociais, econômicos, etários. Sheila observa, contudo, uma distinção na forma de lidar com o problema:
– Pode parecer que a violência só acontece nas classes mais baixas, mas ela é, digamos, democratizada. O que acontece é que as mulheres de classes mais altas utilizam de recursos privados (para combatê-la), e eles não são computados nem chegam às estatísticas públicas. Tudo é feito discretamente, debaixo dos panos – compara a assistente social – Mas têm em comum, por exemplo, a origem doméstica: 72% dos casos de violência registrados pelo serviço Ligue 180 foram cometidos por homens com os quais as vítimas mantêm ou mantiveram uma relação afetiva.
De classe média, a estudante de Direito Giovanna M. tinha 18 anos quando foi agredida, humilhada, e mantida em cárcere privado pelo rapaz com que se relacionava. Para a agredida, a raiz estava numa disputa de poder entre gêneros:
– Começou quando minhas notas dispararam, minha classificação no cursinho começou a ficar cada vez melhor e meu esforço começou a trazer algum resultado. Aos poucos, fui percebendo que eu o incomodava muito com a minha autonomia, determinação, com as minhas notas, o meu jeito de falar e vestir. – recorda – Eu me dei conta de que o incômodo era fruto, essencialmente, do fato de eu ser mulher e me destacar mais. Isso era inadmissível para ele. Um dia fui à casa dele e, depois de uma discussão, ele trancou a porta e disse que não ia me deixar sair. Ao tentar sair, ele me derrubou no chão. Eu disse que ia chamar a polícia e que os pais dele iam ficar sabendo. Ele respondeu que ninguém acreditaria em mim e me deu um soco no rosto. Quando consegui sair, não via a hora de chegar em casa. O medo era maior que tudo. Ele, filho de um político milionário, quem acreditaria em mim? No fim das contas, ele estava certo: ninguém.
Nada nos autoriza a supor que o relato de Giovanna seja uma exceção. Muitos dessas agressões ainda seguem acompanhadas de indiferença. Para espantá-la, especialistas confiam no crescimentos dos centros especializá-los em assistências do gênero e na integração entre vetores de transformação, desde políticas públicas até ONGs, coletivos e instituições de ensino e pesquisa. Aegntes como as Casas Abrigo, que oferecem asilo protegido, sigiloso e atendimento psicossocial e jurídico às mulheres "em situação de violência doméstica" (acompanhadas ou não dos filhos) e os centros de cidadania dirigidos a resgatar e fortalecer a autoestima das mulheres, para que possam melhor defeder seus direitos.
A Casa Abrigo Lar da Mulher, por exemplo, contabiliza 1.736 atendimentos desde 2007. A coordenadora do espaço, Roberta Rosa, explica que "as mulheres chegam a esses serviços por demandas espontâneas ou encaminhadas por qualquer outro órgão que identifique a violência". Lá, elas e os filhos são atendidos por equipes especializadas, que avaliam os riscos e as alternativas de acolhimento familiar ou social. Esgotadas todas as possibilidades de acolhimento, ela é então encaminhada para a Casa Abrigo, desde que concorde. Os filhos recebem apoio psicopedagogo. Roberta destaca o papel dessas casas de apoio para proteger mulheres sob risco iminente de morte:
– A partir do conhecimento dos seus direitos, algumas mulheres são motivadas a tentar romper com o ciclo da violência, por acreditarem que estarão amparadas e garantidas pela lei – vibra.
A Casa da Mulher Carioca Tia Doca é centrada na prevenção. Reúne um conjunto de serviço que convergem para a capacitação e, como se diz, o empoderamento: oficinas e palestras culturais; apoio psicológico; qualificação profissional por meio de cursos como o de maquiagem; capacitação política, com informações sobre os direitos da mulher; apoio jurídico etc. A diretora da casa, Fátima Malaquias, conta que muitas buscam o espaço como um lugar "onde se sentem em paz":
– Elas se sentem acolhidas e saem de lá cada dia mais cientes do seu poder, dos seus direitos e do seu valor. Esse empoderamento é uma arma crucial no combate à submissão e a uma futura violência que possam sofrer.

Casa da Mulher Carioca Tia Doca: (21) 2452-2217